O ESTADO DE S.PAULO, CADERNO 2/CULTURA, página 04, 1º/02/04
Dois autores da geração 60 reúnem suas obras
Armando Freitas Filho e Álvaro Alves de Faria representam principais tendências da época
FABRÍCIO CARPINEJAR
Especial para o Estado
É paradoxal concluir que os poetas pertencem a um gênero secreto, infelizmente, a uma seita de escolhidos e de ungidos provocadores. Mesmo editados, ainda parecem inéditos. Quando surge a obra completa, se surpreende com a constatação de que se conhece somente a metade da voz. Dois dos principais representantes da geração de 60 completam 40 anos de literatura, permitindo uma retrospectiva minuciosa de suas estéticas e propostas. A festa para os autores corresponde a uma revisão crítica para a história.
Um é de São Paulo, Álvaro Alves de Faria, que lança Trajetória Poética (Escrituras, 654 págs., R$ 40), obra reunida de seus 15 livros mais o inédito À Noite, os Cavalos, conjunto recentemente premiado com o APCA 2003.
O outro é do Rio de Janeiro, Armando Freitas Filho, que traz sua Máquina de Escrever (Nova Fronteira, 607 págs., R$ 64), com 12 livros editados além do inédito Numeral, Nominal. Ambos surgiram ao mesmo tempo, inspirados de maneiras diferentes. Álvaro é engajado, busca a explosão temática, fora da linguagem. Sua trajetória é ideológica, política, acreditando nos versos como uma forma de despertar a inconformidade com a realidade social. Foi preso cinco vezes durante a ditadura ao recitar publicamente O Sermão do Viaduto, em 1966. Armando, camaleônico, persegue a libertação dentro da linguagem, armando-se de uma linhagem mais clássica do poema para fazer colagens das experiências do cotidiano. Uma imagem possível, apenas para a compreensão, é uma cruza de João Cabral com as experiências de Cacaso e Ana Cristina César, ou seja, uma dicção rigorosa, cadenciada de versos longos, com súbitas iluminações coloquiais, flagrantes da rua e do senso comum.
Ainda que formal, tem um temperamento passional, febril, instantâneo.
Representa uma das vozes mais singulares da poética brasileira pelo hibridismo e capacidade de assombrar com novos experimentos e transgressões.
Como um rapper, oferece um registro de música falada, absorvendo os obstáculos verbais, o palavreado rude, as quebras, e os convertendo em melodia. Não traça uma poesia em linha reta, mas em diagonal, em cadeia de aliterações e elipses, cortando, sangrando, em explosões subcutâneas, de dentro para fora, o corpo do poema pressionando o corpo da cidade. O andamento funciona, como receita um de seus versos, "por partes consultadas asperamente, fora/ da ordem natural, repentinas!/ Com largos silêncios estourados/ por trechos interrompidos (...)".
Sua escrita revela uma cegueira sonora. De um teste farmacêutico, Duplo-cego, retira o mote de um de seus livros (assim como empreende com a fotografia em 3X4, com o consumo em Marca Registrada e com a missa fúnebre em De Corpo Presente), expondo o encontro às escuras entre escritor e leitor. A droga desconhecida tanto por quem a recebe quanto por quem a administra é uma metáfora do mistério e da instabilidade cardíaca. Armando escreve com raiva escura e úmida. Escrever é aclarar gradualmente a ira em erotismo. Risca o fósforo e permanece com a chama mais do que devia, "até que os dedos queimem". Está sempre em movimento, em desafio, friccionando a paisagem carioca, observando a orla e o Pão de Açúcar ("o primeiro arranha-céu") sob o ângulo do estranhamento, porque "o mar não pára" e ele é destinado a imitar a violência das águas. Não há destino, mas intermitente recomeço. Seu andar é mais disparo do que caminhada. Todo detalhe é ampliado e distorcido em um "olho mágico". Por exemplo, converte as unhas rachadas da velhice de Drummond em símbolo do homem partido, da paternidade inalcançável. Não há espaço para recuar, obrigado a sair ao mundo, sem o recolhimento de sítios domésticos. "Depois que os pais passaram/ a paisagem é recortada rente/ nas costas, e não se pode dar/ passo atrás, pois não há mais/ pátio, casa, quintal, chão."
Álvaro tem uma queda religiosa, não se importando com a velocidade, mas em repercutir a gravidade de sua desilusão e permanente exílio. Nunca está inteiro em seu próprio lugar, feito de dissidências, estilhaços e rompantes.
"Fica dentro de ti, onde não existe mais/ onde te feres/ e te deixas/ onde não estás.// Cala as aves/ no alpendres da manhã/ entre operário feridos/ a cantar o hino nacional", anuncia em um auto-retrato. Desconfia da vida paralela das palavras e da chance de posteridade. Álvaro carrega a pecha do poema como crônica, como desabafo, alarde aos hábitos viciados e à realidade bruta e brutal. Reflexivo, pisa na pedagogia ao oprimido, resvalando ora em autopiedade, ora em exultação da resistência. Expressa uma mensagem de contestação (ainda marcada pelos anos de chumbo e pela poesia social de Neruda), um contrabando de sabedoria, correndo o risco de subjugar a própria espontaneidade das imagens a um conteúdo momentâneo. Torna-se mais um testemunho do que criação. Se Armando ocupa o espectro de invenção, Álvaro, por outro lado, expande-se no front da intervenção. É o que melhor sintetiza a geração de 60 pelas suas virtudes e defeitos. Os poemas se firmam em paralelismos, dando uma miragem cantada. "A palavra noite nada significa/ senão que é a noite essa paisagem distante/ em que se debruçam poetas antigos/ senão que é a noite/ a palavra que nada diz/ senão que a noite é só noite/ é só noite/ é só noite/ é só noite (...)." O dissabor social acaba se misturando a um descontentamento literário. O poema é também discutido e posto em dúvida. A metalinguagem paira acima da própria poesia. O que pode incomodar é a exagerada reiteração do que é a poesia e como ela deve ser feita, uma insistência em conceituar negativamente o trabalho e o futuro.
"Fica o nada/ do poeta: a obra não permanece" (À Noite, os Cavalos, 2003) ou "O poema é inútil/ como um catecismo/ inútil como/ uma maçã" (O Azul Irremediável, 1992).
Nos Poemas Portugueses, ao se situar fora do País, curiosamente, é que acha a pessoalidade de seu timbre e o tom inconfundível da sensibilidade, não sofrendo da necessidade auto-imposta de defender uma causa ou os limites de sua vivência geográfica. Desvia a atenção da denúncia para pequenos quadros líricos, descrevendo Lisboa como o paletó escuro do pai, reparando na louça verde dos varais, caminhando pressentimentos. Esse Álvaro é um poeta diferenciado, tomado apenas da espontaneidade em acompanhar a sinfonia flutuante das palavras desnecessárias e, portanto, inesquecíveis: "Eu me arrependo de tudo,/ até do que não fiz." Em Portugal, ele encontrou Alberto Caeiro em si e se regozija do que não viu. "Observo as mulheres de negro/ que não caminham em mim, mas terminam em mim,/ como se concluem os rios."
Fabrício Carpinejar é jornalista e poeta, autor de "Caixa de sapatos" (Companhia das Letras, 2003), entre outros.
quinta-feira, 7 de janeiro de 2010
2/2/2004 07:57:26 AM
UMA TRISTEZA QUE ACONTECE ALEGREMENTE

Fabrício Carpinejar
Tenho amigos que são tristemente alegres. Eles não conseguiram anular uma tristeza. Ela ficou a endividar o riso. Permanece como uma cicatriz, uma queimadura. Não apaga a água ou as alegrias. Convive junto, sempre. Não arreda pé da sala. Não permite ao rosto se contorcer de exultação. O riso é uma vez por lado, contido, como remos sincronizados. Como se o riso fosse apenas um entristecer dos dentes. Há amigos que pensam nessa tristeza fazendo novas coisas. E a tristeza pensa neles nas horas mais impróprias. Não há como aplacar esse sentimento - ao mesmo tempo - miúdo para ser reparado e extraviado para ser dito. Não é benigno ou maligno. Não é doença, muito menos saúde. É algo que se aprendeu quando não se prestava atenção. Uma tristeza assobiada, sem que conheça o alfabeto para se confessar. Uma tristeza suave, como uma criança que senta diante da máquina de lavar com os mesmos modos de uma televisão. Uma tristeza sem lugar para ir, que se acostumou a personalidade, que seca a louça de manhã. Uma tristeza que é charme, mas não chega a ser simpatia, que convida para a conversa, mas não tem o que falar. Uma tristeza calma, alimentada, que se contenta com pouco, que senta nos degraus da escada e divide os latidos da quadra em casas. Uma tristeza quase subterrânea, um rádio ligado entre duas estações. Não se mistura, não se guarda. Podia ser nostalgia, podia ser saudade, nada é de ambas por não se distanciar. Uma tristeza que arruma a cama e não se deita, envelopa as cartas e não escreve. Uma tristeza que é tremor de frio, um suor desajeitado, uma fisgada no braço, que movimenta os ouvidos involuntariamente. Uma tristeza tímida, não envergonhada. Uma tristeza sábia, que não é excluída com uma outra tristeza maior. Uma fogueira que a pá de terra não abaixa. Uma tristeza que veio de algum estalo, fissura, de um amor sacrificado, de uma amizade desmentida, de uma morte prematura, de uma viagem adiada. Medo de não ter vivido o bastante, covardia de não viver como se deve. Uma tristeza experiente, que não se repete. Que não salva, porém conforta. Que torna a feição séria como quem se escuta. Uma tristeza sem par para dançar. Isolada demais para ser lembrança. Antiga demais para ser futuro. Uma tristeza que acontece alegremente, mas ainda assim tristeza.

Fabrício Carpinejar
Tenho amigos que são tristemente alegres. Eles não conseguiram anular uma tristeza. Ela ficou a endividar o riso. Permanece como uma cicatriz, uma queimadura. Não apaga a água ou as alegrias. Convive junto, sempre. Não arreda pé da sala. Não permite ao rosto se contorcer de exultação. O riso é uma vez por lado, contido, como remos sincronizados. Como se o riso fosse apenas um entristecer dos dentes. Há amigos que pensam nessa tristeza fazendo novas coisas. E a tristeza pensa neles nas horas mais impróprias. Não há como aplacar esse sentimento - ao mesmo tempo - miúdo para ser reparado e extraviado para ser dito. Não é benigno ou maligno. Não é doença, muito menos saúde. É algo que se aprendeu quando não se prestava atenção. Uma tristeza assobiada, sem que conheça o alfabeto para se confessar. Uma tristeza suave, como uma criança que senta diante da máquina de lavar com os mesmos modos de uma televisão. Uma tristeza sem lugar para ir, que se acostumou a personalidade, que seca a louça de manhã. Uma tristeza que é charme, mas não chega a ser simpatia, que convida para a conversa, mas não tem o que falar. Uma tristeza calma, alimentada, que se contenta com pouco, que senta nos degraus da escada e divide os latidos da quadra em casas. Uma tristeza quase subterrânea, um rádio ligado entre duas estações. Não se mistura, não se guarda. Podia ser nostalgia, podia ser saudade, nada é de ambas por não se distanciar. Uma tristeza que arruma a cama e não se deita, envelopa as cartas e não escreve. Uma tristeza que é tremor de frio, um suor desajeitado, uma fisgada no braço, que movimenta os ouvidos involuntariamente. Uma tristeza tímida, não envergonhada. Uma tristeza sábia, que não é excluída com uma outra tristeza maior. Uma fogueira que a pá de terra não abaixa. Uma tristeza que veio de algum estalo, fissura, de um amor sacrificado, de uma amizade desmentida, de uma morte prematura, de uma viagem adiada. Medo de não ter vivido o bastante, covardia de não viver como se deve. Uma tristeza experiente, que não se repete. Que não salva, porém conforta. Que torna a feição séria como quem se escuta. Uma tristeza sem par para dançar. Isolada demais para ser lembrança. Antiga demais para ser futuro. Uma tristeza que acontece alegremente, mas ainda assim tristeza.
2/3/2004 04:41:34 PM
MÍNIMAS
Gravura de Paul Klee
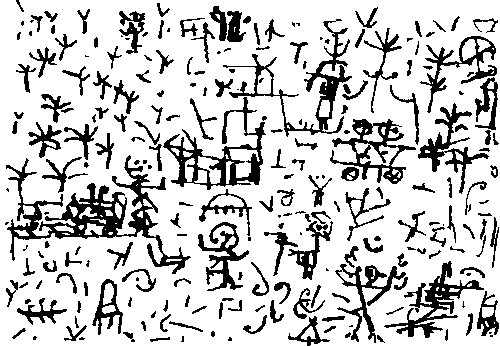
* O bêbado é um chato consciente de que também seria chato se não bebesse.
* O bêbado nunca sente terror por não ver direito, sente terror por não ser visto tanto quanto queria.
Gravura de Paul Klee
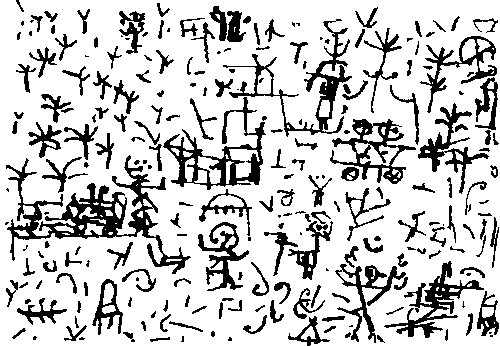
* O bêbado é um chato consciente de que também seria chato se não bebesse.
* O bêbado nunca sente terror por não ver direito, sente terror por não ser visto tanto quanto queria.
2/4/2004 08:22:40 AM
DESMEMÓRIA DAS MÃOS
Fabrício Carpinejar
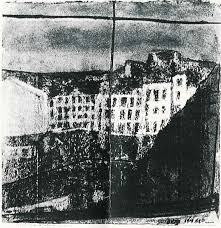 Eu lembro da cera do piso, dos frisos umedecidos da madeira, o cuidado ao atravessar as tábuas. Eu lembro das videiras apanhando dos granizos. Eu lembro do galo se derramar em fogo durante a madrugada. Eu lembro dos pés de meu avô antes de morrer. Eu lembro: quando a árvore mudava a cor das folhas, sua sombra aquecia. Eu lembro do chapéu de palha atrás da porta. Eu lembro do silêncio de luto, o tempo de cada colherada na mesa, o tempo de um parente a outro na sopa, o tempo de árvore de um pássaro a outro. Eu lembro da ferrugem na bicicleta, a tosse afobada do primeiro cigarro. Eu lembro de ter andado com os chinelos de meu pai, como quem se equilibra em patins. Eu lembro de ter amado menos quando pensava em amar e amado mais quando não sabia fazer. Eu lembro da minha vizinha se despedindo. Eu lembro do beijo dela ao partir, rápido, assustado, perto da boca. Eu lembro de ter ficado encabulado e comer as palavras que não saíram. Eu lembro de não ter passado o sal na refeição, de não ter voltado para casa sendo noite. Eu lembro da cera da igreja, as velas e seu tapete de promessas, as mulheres rezando em círculos. Eu lembro da lã escura dos olhos das ovelhas, do barco descascando na margem, do suspiro da rede arrastando o cansaço dos peixes. Eu lembro do muro branco, do cão branco, do osso da casa abandonada. Eu lembro que eu me demorava nos passeios. Eu lembro que não tinha pressa de dormir. Eu lembro que os ruídos na cozinha aprofundavam os ouvidos. Eu lembro que o mar me atendeu, apesar do expediente fechado e das cadeiras sobre a mesa. Eu lembro que nadei convencido que a espuma não iria se desfazer. Eu lembro que o nevoeiro guardava o carro sem pedir troco. Eu lembro do excesso da escassez. Eu lembro que o instinto é o que resta da inteligência. Eu lembro que a derrota é reconstituir os pormenores do que não foi feito. Eu lembro que a consciência pesa quando vigiada. Eu lembro que viver nunca será um dever cumprido.
Eu lembro da cera do piso, dos frisos umedecidos da madeira, o cuidado ao atravessar as tábuas. Eu lembro das videiras apanhando dos granizos. Eu lembro do galo se derramar em fogo durante a madrugada. Eu lembro dos pés de meu avô antes de morrer. Eu lembro: quando a árvore mudava a cor das folhas, sua sombra aquecia. Eu lembro do chapéu de palha atrás da porta. Eu lembro do silêncio de luto, o tempo de cada colherada na mesa, o tempo de um parente a outro na sopa, o tempo de árvore de um pássaro a outro. Eu lembro da ferrugem na bicicleta, a tosse afobada do primeiro cigarro. Eu lembro de ter andado com os chinelos de meu pai, como quem se equilibra em patins. Eu lembro de ter amado menos quando pensava em amar e amado mais quando não sabia fazer. Eu lembro da minha vizinha se despedindo. Eu lembro do beijo dela ao partir, rápido, assustado, perto da boca. Eu lembro de ter ficado encabulado e comer as palavras que não saíram. Eu lembro de não ter passado o sal na refeição, de não ter voltado para casa sendo noite. Eu lembro da cera da igreja, as velas e seu tapete de promessas, as mulheres rezando em círculos. Eu lembro da lã escura dos olhos das ovelhas, do barco descascando na margem, do suspiro da rede arrastando o cansaço dos peixes. Eu lembro do muro branco, do cão branco, do osso da casa abandonada. Eu lembro que eu me demorava nos passeios. Eu lembro que não tinha pressa de dormir. Eu lembro que os ruídos na cozinha aprofundavam os ouvidos. Eu lembro que o mar me atendeu, apesar do expediente fechado e das cadeiras sobre a mesa. Eu lembro que nadei convencido que a espuma não iria se desfazer. Eu lembro que o nevoeiro guardava o carro sem pedir troco. Eu lembro do excesso da escassez. Eu lembro que o instinto é o que resta da inteligência. Eu lembro que a derrota é reconstituir os pormenores do que não foi feito. Eu lembro que a consciência pesa quando vigiada. Eu lembro que viver nunca será um dever cumprido.
Fabrício Carpinejar
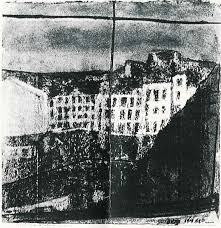 Eu lembro da cera do piso, dos frisos umedecidos da madeira, o cuidado ao atravessar as tábuas. Eu lembro das videiras apanhando dos granizos. Eu lembro do galo se derramar em fogo durante a madrugada. Eu lembro dos pés de meu avô antes de morrer. Eu lembro: quando a árvore mudava a cor das folhas, sua sombra aquecia. Eu lembro do chapéu de palha atrás da porta. Eu lembro do silêncio de luto, o tempo de cada colherada na mesa, o tempo de um parente a outro na sopa, o tempo de árvore de um pássaro a outro. Eu lembro da ferrugem na bicicleta, a tosse afobada do primeiro cigarro. Eu lembro de ter andado com os chinelos de meu pai, como quem se equilibra em patins. Eu lembro de ter amado menos quando pensava em amar e amado mais quando não sabia fazer. Eu lembro da minha vizinha se despedindo. Eu lembro do beijo dela ao partir, rápido, assustado, perto da boca. Eu lembro de ter ficado encabulado e comer as palavras que não saíram. Eu lembro de não ter passado o sal na refeição, de não ter voltado para casa sendo noite. Eu lembro da cera da igreja, as velas e seu tapete de promessas, as mulheres rezando em círculos. Eu lembro da lã escura dos olhos das ovelhas, do barco descascando na margem, do suspiro da rede arrastando o cansaço dos peixes. Eu lembro do muro branco, do cão branco, do osso da casa abandonada. Eu lembro que eu me demorava nos passeios. Eu lembro que não tinha pressa de dormir. Eu lembro que os ruídos na cozinha aprofundavam os ouvidos. Eu lembro que o mar me atendeu, apesar do expediente fechado e das cadeiras sobre a mesa. Eu lembro que nadei convencido que a espuma não iria se desfazer. Eu lembro que o nevoeiro guardava o carro sem pedir troco. Eu lembro do excesso da escassez. Eu lembro que o instinto é o que resta da inteligência. Eu lembro que a derrota é reconstituir os pormenores do que não foi feito. Eu lembro que a consciência pesa quando vigiada. Eu lembro que viver nunca será um dever cumprido.
Eu lembro da cera do piso, dos frisos umedecidos da madeira, o cuidado ao atravessar as tábuas. Eu lembro das videiras apanhando dos granizos. Eu lembro do galo se derramar em fogo durante a madrugada. Eu lembro dos pés de meu avô antes de morrer. Eu lembro: quando a árvore mudava a cor das folhas, sua sombra aquecia. Eu lembro do chapéu de palha atrás da porta. Eu lembro do silêncio de luto, o tempo de cada colherada na mesa, o tempo de um parente a outro na sopa, o tempo de árvore de um pássaro a outro. Eu lembro da ferrugem na bicicleta, a tosse afobada do primeiro cigarro. Eu lembro de ter andado com os chinelos de meu pai, como quem se equilibra em patins. Eu lembro de ter amado menos quando pensava em amar e amado mais quando não sabia fazer. Eu lembro da minha vizinha se despedindo. Eu lembro do beijo dela ao partir, rápido, assustado, perto da boca. Eu lembro de ter ficado encabulado e comer as palavras que não saíram. Eu lembro de não ter passado o sal na refeição, de não ter voltado para casa sendo noite. Eu lembro da cera da igreja, as velas e seu tapete de promessas, as mulheres rezando em círculos. Eu lembro da lã escura dos olhos das ovelhas, do barco descascando na margem, do suspiro da rede arrastando o cansaço dos peixes. Eu lembro do muro branco, do cão branco, do osso da casa abandonada. Eu lembro que eu me demorava nos passeios. Eu lembro que não tinha pressa de dormir. Eu lembro que os ruídos na cozinha aprofundavam os ouvidos. Eu lembro que o mar me atendeu, apesar do expediente fechado e das cadeiras sobre a mesa. Eu lembro que nadei convencido que a espuma não iria se desfazer. Eu lembro que o nevoeiro guardava o carro sem pedir troco. Eu lembro do excesso da escassez. Eu lembro que o instinto é o que resta da inteligência. Eu lembro que a derrota é reconstituir os pormenores do que não foi feito. Eu lembro que a consciência pesa quando vigiada. Eu lembro que viver nunca será um dever cumprido.2/5/2004 10:50:42 AM
NO CÉU DA BOCA DE DEUS
Fabrício Carpinejar
Foto de Juan Esteves

Hilda Hilst, autora de 41 livros, morreu na madrugada de ontem, aos 73 anos, no Hospital Universitário da Unicamp, em Campinas, interior de São Paulo, onde estava internada desde o último dia 2 de janeiro. A escritora nasceu em Jaú, no interior paulista, em 21 de abril de 1930, e morava há 40 anos em Campinas na chácara Casa do Sol, com a escolta de dezenas de cachorros e gatos.
Mais do que ir ao fim do mundo, Hilda Hilst foi ao fundo de si mesma e não se esgotou. Em "Estar sendo, ter sido" (Nankim, 1997), encerra a obra com um verso lancinante: "Essa sou eu.// Poeta e mula". Com lealdade e coerência, carregou sozinha sua loucura orquestrada, sua fome pelo absoluto no mínimo, sua curiosidade erótica. Hilda Hilst amava Hilda Hilst enquanto Hilda Hilst odiava Hilda Hilst. Ria pastoso do destino que a fez buscar o desejo sem recompensa. Tantas foram que seu temperamento ainda não acabou de dizer o que queria. "Não há silêncio bastante para o meu silêncio."
Em Hilda Hilst, o amor não se opera, nem pode ser extraído ou reaproveitado em transplante de órgão. Nas décadas de 60 e 70, esteve ao lado da crítica. Anatol Rosenfeld, no prefácio de "Fluxofloema", a escalou no seleto grupo capaz de realizar três gêneros com volúpia: os versos, a dramaturgia e a ficção. Em Poesia (1957-1967), falava da dificuldade de verbalizar o amor, talvez porque o mesmo suspiro que inicialmente comove já seja o estertor da paixão. O ápice é o fim. Enquanto a maioria da geração de 60 engajava-se no combate à ditadura militar, a prosa de Hilda era livre, ou quase isso, uma "prisão libertadora", como afirmava Antonio Carlos Villaça. "Pássaro-palavra, livre, volúpia de ser asa na minha boca."
Seus versos terminariam empalhados nas antologias, caracterizados como sérios, rilkeanos e incompreendidos pelo público. "Chamaram minha obra de palimpsesto. Depois disso, quem iria me procurar?", ela me confessou.
Tudo mudou na década de 90. Hilda ficou cansada da prosa certinha. Decidiu fazer sátira para rir. Lançou a antologia erótica "O Caderno Rosa de Lory Lamby", "Contos de Escárnio" e "Cartas de um sedutor". A prosa circense não deu certo. Nem leitores, muito menos críticos gargalharam. Antes "senhora das alvoradas", ficou conhecida como "obscena senhora H". Trocaram apenas os rótulos.
A escritora derrubou as fronteiras entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. A casualidade mecânica do sexo é convertida em catarse alucinada. Pulsação e metamorfose. A protagonista Hilé, de "A obscena senhora D", quer ser um grande animal. "Ando galopando desde sempre búfalo, zebu, girafa e me afundo nos capins resfolegando." A carne exala inquietação mística, antropofágica. Não só comer outro corpo, mas também mastigar o mundo, mastigar Deus. "Engolia o corpo de Deus a cada mês, não como quem engole ervilhas ou roscas ou sabres, engolia o corpo de Deus como quem engole o Mais. Por não acreditar na finitude me perdia no absoluto infinito." Fez a fusão do erotismo com a religião, da eucaristia com o sexo, do altar com a cama. A Senhora D é uma mulher no encalço de sua imagem e que sente prazer em não encontrá-la. "Engasgo neste abismo, cresci procurando." É a ânsia da pureza na degradação.
Hilda desarma a realeza do homem, que mais preocupado com o seu desejo, o desejo do outro acaba atrapalhando o seu gozo. Ferina e insurrecta, compartilha a filosofia da alcova com o Marquês de Sade. "Todo o homem de pau duro almeja ser déspota." O sexo é exercício positivo contra a opressão particular. As histórias entretêm e, ao mesmo tempo, mantêm uma peleja característica do embate socrático. Perguntar em Hilda Hilst é se aniquilar. Em sua constelação sem favores e chantagens, fazer-se homem é ainda ser mulher. A perversão nunca perde a inocência fundadora. Em "O caderno rosa de Lory Lamb", uma criança rouba os originais do pai e copia em seu diário passagens pornográficas, sem entender absolutamente nada. Hilda realiza o sonho do cineasta Buñuel, que queria colocar uma criança de branco declamando textos pornográficos como cantigas de roda. A poeta não hierarquizava a vida. Seu exorcismo era um milagre que servia aos outros, nunca em seu benefício.



Traduzida para o inglês, italiano, alemão e francês ("Contos de Escárnio", editado pela famosa Gallimard, vendeu mais de 25 mil exemplares), a obra de Hilda Hilst está sendo reeditada no Brasil pela Editora Globo
Conversei com Hilda Hilst em 1996. Confira trechos da entrevista:
"A gente vai envelhecendo e fica com o pânico da morte. Tenho mania de deixar o rádio ligado para perder a solidão."
 "Duvido da sanidade do mundo."
"Duvido da sanidade do mundo."
"Quando escrevia as novelas bem comportadas, mesmo assim os críticos tinham dificuldades de assimilar. Primeiro falaram que escrevia palimpsesto, depois tábua de música. Estava inconformada. Ao invés da tristeza, de me angustiar com a idéia de que fiz um bom trabalho para ninguém ler, decidi brincar um pouco. Achei que minha trilogia do sexo seria uma coisa divertida, mas apenas escandalizei meus amigos. O meu próprio enfoque é o desfocar o olho do outro. Meus personagens têm o perigoso hábito de pensar e brincar com a sexualidade, quando o mundo está interessado no acaso mecânico."
"Quem coloca fervor e paixão na linguagem, sempre será uma tarada. Minha tara é a linguagem."
"Não tenho destino para o sucesso. É problema de astros. Eu acho que tudo é culpa do signo de Saturno, meu ascendente. Demoram a me perceber. Tenho mais de 30 livros publicados e ainda me tratam com esmolas."
 "Fiz ilustrações para 'Da Morte, Odes Mínimas'. Tenho essa ligação anedótica da relação a dois, de fazer as pessoas aceitarem os vícios como patrimônio."
"Fiz ilustrações para 'Da Morte, Odes Mínimas'. Tenho essa ligação anedótica da relação a dois, de fazer as pessoas aceitarem os vícios como patrimônio."
"Essa bobagem de sexo na velhice não atinge o poeta. Escrevo justamente para não envelhecer. Posso ter 70 ou 80 anos, vou continuar erótica. A imaginação vai assumindo o controle das lembranças e ninguém segura. Sei respeitar a ausência do amado e ainda assim desejá-lo. 'Desperdicei meu corpo para aliviar minha alma', acho que escutei isso num filme."
"Ser esposa é desagradável e chato. É ser tratada como comida requentada. Estou ligada ao amor absoluto. O amor é o esforço da perfeição. Nada mais do que o esforço."
"A morte deve ter apelidos. O que eu sinto pela morte, a morte sente pela minha vida. É um medo mútuo."
Fabrício Carpinejar
Foto de Juan Esteves

Hilda Hilst, autora de 41 livros, morreu na madrugada de ontem, aos 73 anos, no Hospital Universitário da Unicamp, em Campinas, interior de São Paulo, onde estava internada desde o último dia 2 de janeiro. A escritora nasceu em Jaú, no interior paulista, em 21 de abril de 1930, e morava há 40 anos em Campinas na chácara Casa do Sol, com a escolta de dezenas de cachorros e gatos.
Mais do que ir ao fim do mundo, Hilda Hilst foi ao fundo de si mesma e não se esgotou. Em "Estar sendo, ter sido" (Nankim, 1997), encerra a obra com um verso lancinante: "Essa sou eu.// Poeta e mula". Com lealdade e coerência, carregou sozinha sua loucura orquestrada, sua fome pelo absoluto no mínimo, sua curiosidade erótica. Hilda Hilst amava Hilda Hilst enquanto Hilda Hilst odiava Hilda Hilst. Ria pastoso do destino que a fez buscar o desejo sem recompensa. Tantas foram que seu temperamento ainda não acabou de dizer o que queria. "Não há silêncio bastante para o meu silêncio."
Em Hilda Hilst, o amor não se opera, nem pode ser extraído ou reaproveitado em transplante de órgão. Nas décadas de 60 e 70, esteve ao lado da crítica. Anatol Rosenfeld, no prefácio de "Fluxofloema", a escalou no seleto grupo capaz de realizar três gêneros com volúpia: os versos, a dramaturgia e a ficção. Em Poesia (1957-1967), falava da dificuldade de verbalizar o amor, talvez porque o mesmo suspiro que inicialmente comove já seja o estertor da paixão. O ápice é o fim. Enquanto a maioria da geração de 60 engajava-se no combate à ditadura militar, a prosa de Hilda era livre, ou quase isso, uma "prisão libertadora", como afirmava Antonio Carlos Villaça. "Pássaro-palavra, livre, volúpia de ser asa na minha boca."
Seus versos terminariam empalhados nas antologias, caracterizados como sérios, rilkeanos e incompreendidos pelo público. "Chamaram minha obra de palimpsesto. Depois disso, quem iria me procurar?", ela me confessou.
Tudo mudou na década de 90. Hilda ficou cansada da prosa certinha. Decidiu fazer sátira para rir. Lançou a antologia erótica "O Caderno Rosa de Lory Lamby", "Contos de Escárnio" e "Cartas de um sedutor". A prosa circense não deu certo. Nem leitores, muito menos críticos gargalharam. Antes "senhora das alvoradas", ficou conhecida como "obscena senhora H". Trocaram apenas os rótulos.
A escritora derrubou as fronteiras entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. A casualidade mecânica do sexo é convertida em catarse alucinada. Pulsação e metamorfose. A protagonista Hilé, de "A obscena senhora D", quer ser um grande animal. "Ando galopando desde sempre búfalo, zebu, girafa e me afundo nos capins resfolegando." A carne exala inquietação mística, antropofágica. Não só comer outro corpo, mas também mastigar o mundo, mastigar Deus. "Engolia o corpo de Deus a cada mês, não como quem engole ervilhas ou roscas ou sabres, engolia o corpo de Deus como quem engole o Mais. Por não acreditar na finitude me perdia no absoluto infinito." Fez a fusão do erotismo com a religião, da eucaristia com o sexo, do altar com a cama. A Senhora D é uma mulher no encalço de sua imagem e que sente prazer em não encontrá-la. "Engasgo neste abismo, cresci procurando." É a ânsia da pureza na degradação.
Hilda desarma a realeza do homem, que mais preocupado com o seu desejo, o desejo do outro acaba atrapalhando o seu gozo. Ferina e insurrecta, compartilha a filosofia da alcova com o Marquês de Sade. "Todo o homem de pau duro almeja ser déspota." O sexo é exercício positivo contra a opressão particular. As histórias entretêm e, ao mesmo tempo, mantêm uma peleja característica do embate socrático. Perguntar em Hilda Hilst é se aniquilar. Em sua constelação sem favores e chantagens, fazer-se homem é ainda ser mulher. A perversão nunca perde a inocência fundadora. Em "O caderno rosa de Lory Lamb", uma criança rouba os originais do pai e copia em seu diário passagens pornográficas, sem entender absolutamente nada. Hilda realiza o sonho do cineasta Buñuel, que queria colocar uma criança de branco declamando textos pornográficos como cantigas de roda. A poeta não hierarquizava a vida. Seu exorcismo era um milagre que servia aos outros, nunca em seu benefício.



Traduzida para o inglês, italiano, alemão e francês ("Contos de Escárnio", editado pela famosa Gallimard, vendeu mais de 25 mil exemplares), a obra de Hilda Hilst está sendo reeditada no Brasil pela Editora Globo
Conversei com Hilda Hilst em 1996. Confira trechos da entrevista:
"A gente vai envelhecendo e fica com o pânico da morte. Tenho mania de deixar o rádio ligado para perder a solidão."
 "Duvido da sanidade do mundo."
"Duvido da sanidade do mundo.""Quando escrevia as novelas bem comportadas, mesmo assim os críticos tinham dificuldades de assimilar. Primeiro falaram que escrevia palimpsesto, depois tábua de música. Estava inconformada. Ao invés da tristeza, de me angustiar com a idéia de que fiz um bom trabalho para ninguém ler, decidi brincar um pouco. Achei que minha trilogia do sexo seria uma coisa divertida, mas apenas escandalizei meus amigos. O meu próprio enfoque é o desfocar o olho do outro. Meus personagens têm o perigoso hábito de pensar e brincar com a sexualidade, quando o mundo está interessado no acaso mecânico."
"Quem coloca fervor e paixão na linguagem, sempre será uma tarada. Minha tara é a linguagem."
"Não tenho destino para o sucesso. É problema de astros. Eu acho que tudo é culpa do signo de Saturno, meu ascendente. Demoram a me perceber. Tenho mais de 30 livros publicados e ainda me tratam com esmolas."
 "Fiz ilustrações para 'Da Morte, Odes Mínimas'. Tenho essa ligação anedótica da relação a dois, de fazer as pessoas aceitarem os vícios como patrimônio."
"Fiz ilustrações para 'Da Morte, Odes Mínimas'. Tenho essa ligação anedótica da relação a dois, de fazer as pessoas aceitarem os vícios como patrimônio.""Essa bobagem de sexo na velhice não atinge o poeta. Escrevo justamente para não envelhecer. Posso ter 70 ou 80 anos, vou continuar erótica. A imaginação vai assumindo o controle das lembranças e ninguém segura. Sei respeitar a ausência do amado e ainda assim desejá-lo. 'Desperdicei meu corpo para aliviar minha alma', acho que escutei isso num filme."
"Ser esposa é desagradável e chato. É ser tratada como comida requentada. Estou ligada ao amor absoluto. O amor é o esforço da perfeição. Nada mais do que o esforço."
"A morte deve ter apelidos. O que eu sinto pela morte, a morte sente pela minha vida. É um medo mútuo."
2/6/2004 12:59:20 PM
O VENTO SE INVENTA NA FLAUTA
Gravuras de Paul Klee
Fabrício Carpinejar
 Era senhora de sabedoria irritada, desacostumada. Na volta do serviço, eu passava pelos bancos de praça e ela puxava a conversa e pedia um cigarro e puxava a camisa das palavras para me fazer sentar um pouco no mormaço de seus olhos chiando. Ficava constrangido em negar. "Sabes, guri, a vida é longa para contar, por isso os velhos entram no silêncio e espiam a linguagem da janela. Eles não sabem como começar sua história". Ela engatilhava um assunto e emendava um novo sem terminar o primeiro. Era exageradamente curva. Não poupava sarcasmo com seu problema de coluna. "Eu nasci mulher, virei mesa. Posso colocar um jarro nas minhas costas que não vai cair." Parecia letrada. "Eu falo muito do menos." Seu queixo se assemelhava a uma península, isolada do resto do rosto. Tinha que nadar bastante para chegar de um ponto a outro. "É melhor ser uma antipática viva do que uma santa morta." Ela tossia, tinha impaciência com a própria respiração. "No ano passado, meu marido estava no hospital e não teve alta, foi direto para o alto." Nada escapava do humor ácido. "O tempo serve quando não serve para nada." Treinava o azedume como quem arremessa milho. As pombas não se aproximavam de sua porção de chapéu. Ela se levanta de repente e agradece a conversa. Me dou conta que não falei nada.
Era senhora de sabedoria irritada, desacostumada. Na volta do serviço, eu passava pelos bancos de praça e ela puxava a conversa e pedia um cigarro e puxava a camisa das palavras para me fazer sentar um pouco no mormaço de seus olhos chiando. Ficava constrangido em negar. "Sabes, guri, a vida é longa para contar, por isso os velhos entram no silêncio e espiam a linguagem da janela. Eles não sabem como começar sua história". Ela engatilhava um assunto e emendava um novo sem terminar o primeiro. Era exageradamente curva. Não poupava sarcasmo com seu problema de coluna. "Eu nasci mulher, virei mesa. Posso colocar um jarro nas minhas costas que não vai cair." Parecia letrada. "Eu falo muito do menos." Seu queixo se assemelhava a uma península, isolada do resto do rosto. Tinha que nadar bastante para chegar de um ponto a outro. "É melhor ser uma antipática viva do que uma santa morta." Ela tossia, tinha impaciência com a própria respiração. "No ano passado, meu marido estava no hospital e não teve alta, foi direto para o alto." Nada escapava do humor ácido. "O tempo serve quando não serve para nada." Treinava o azedume como quem arremessa milho. As pombas não se aproximavam de sua porção de chapéu. Ela se levanta de repente e agradece a conversa. Me dou conta que não falei nada.
Gravuras de Paul Klee
Fabrício Carpinejar
 Era senhora de sabedoria irritada, desacostumada. Na volta do serviço, eu passava pelos bancos de praça e ela puxava a conversa e pedia um cigarro e puxava a camisa das palavras para me fazer sentar um pouco no mormaço de seus olhos chiando. Ficava constrangido em negar. "Sabes, guri, a vida é longa para contar, por isso os velhos entram no silêncio e espiam a linguagem da janela. Eles não sabem como começar sua história". Ela engatilhava um assunto e emendava um novo sem terminar o primeiro. Era exageradamente curva. Não poupava sarcasmo com seu problema de coluna. "Eu nasci mulher, virei mesa. Posso colocar um jarro nas minhas costas que não vai cair." Parecia letrada. "Eu falo muito do menos." Seu queixo se assemelhava a uma península, isolada do resto do rosto. Tinha que nadar bastante para chegar de um ponto a outro. "É melhor ser uma antipática viva do que uma santa morta." Ela tossia, tinha impaciência com a própria respiração. "No ano passado, meu marido estava no hospital e não teve alta, foi direto para o alto." Nada escapava do humor ácido. "O tempo serve quando não serve para nada." Treinava o azedume como quem arremessa milho. As pombas não se aproximavam de sua porção de chapéu. Ela se levanta de repente e agradece a conversa. Me dou conta que não falei nada.
Era senhora de sabedoria irritada, desacostumada. Na volta do serviço, eu passava pelos bancos de praça e ela puxava a conversa e pedia um cigarro e puxava a camisa das palavras para me fazer sentar um pouco no mormaço de seus olhos chiando. Ficava constrangido em negar. "Sabes, guri, a vida é longa para contar, por isso os velhos entram no silêncio e espiam a linguagem da janela. Eles não sabem como começar sua história". Ela engatilhava um assunto e emendava um novo sem terminar o primeiro. Era exageradamente curva. Não poupava sarcasmo com seu problema de coluna. "Eu nasci mulher, virei mesa. Posso colocar um jarro nas minhas costas que não vai cair." Parecia letrada. "Eu falo muito do menos." Seu queixo se assemelhava a uma península, isolada do resto do rosto. Tinha que nadar bastante para chegar de um ponto a outro. "É melhor ser uma antipática viva do que uma santa morta." Ela tossia, tinha impaciência com a própria respiração. "No ano passado, meu marido estava no hospital e não teve alta, foi direto para o alto." Nada escapava do humor ácido. "O tempo serve quando não serve para nada." Treinava o azedume como quem arremessa milho. As pombas não se aproximavam de sua porção de chapéu. Ela se levanta de repente e agradece a conversa. Me dou conta que não falei nada. 2/6/2004 01:00:21 PM
SEGUNDA GAVETA, À ESQUERDA
Gravura de Paul Klee
Fabrício Carpinejar
 Eu lembro que curava minhas verrugas com folhas de figos. Eu lembro que andava na chuva para abaixar a cabeça. Eu lembro da conversa animada das enxadas nas frinchas das calçadas. Eu lembro que não precisava morder a aliança para testar seu ouro. Eu lembro que o cansaço me salvava da repetição. Eu lembro de manter um andar de distância entre minha carne e a terra. Eu lembro de atravessar as brasas em festa junina. Eu lembro de ter chegado na escola vestido de índio na data errada. Eu lembro de desmaiar em sala de aula. Eu lembro que fui voluntário na aplicação de vacina para me aproximar de uma menina. Eu lembro que a luz subia com a roldana do poço. Eu lembro que o ponteiro do relógio era um garfo se fazendo de faca. Eu lembro de um pássaro se apoiar em sua asa como uma muleta. Eu lembro que jurava segredos, esquecia e não tinha certeza se havia contado. Eu lembro de salvar meu irmão caçula da piscina. Eu lembro de me esperançar no fim da tarde. Eu lembro de meu medo dos dentes do túnel. Eu lembro da máquina de costura preta de minha avó e os pedais descontrolados. Eu lembro a primeira vez que quebrei noz com as mãos. Eu lembro de dispersar as ervas da horta. Eu lembro de sondar as feridas do tronco. Eu lembro do avental branco no gancho e das panelas na parede. Eu lembro do que ainda não me esqueceu.
Eu lembro que curava minhas verrugas com folhas de figos. Eu lembro que andava na chuva para abaixar a cabeça. Eu lembro da conversa animada das enxadas nas frinchas das calçadas. Eu lembro que não precisava morder a aliança para testar seu ouro. Eu lembro que o cansaço me salvava da repetição. Eu lembro de manter um andar de distância entre minha carne e a terra. Eu lembro de atravessar as brasas em festa junina. Eu lembro de ter chegado na escola vestido de índio na data errada. Eu lembro de desmaiar em sala de aula. Eu lembro que fui voluntário na aplicação de vacina para me aproximar de uma menina. Eu lembro que a luz subia com a roldana do poço. Eu lembro que o ponteiro do relógio era um garfo se fazendo de faca. Eu lembro de um pássaro se apoiar em sua asa como uma muleta. Eu lembro que jurava segredos, esquecia e não tinha certeza se havia contado. Eu lembro de salvar meu irmão caçula da piscina. Eu lembro de me esperançar no fim da tarde. Eu lembro de meu medo dos dentes do túnel. Eu lembro da máquina de costura preta de minha avó e os pedais descontrolados. Eu lembro a primeira vez que quebrei noz com as mãos. Eu lembro de dispersar as ervas da horta. Eu lembro de sondar as feridas do tronco. Eu lembro do avental branco no gancho e das panelas na parede. Eu lembro do que ainda não me esqueceu.
Gravura de Paul Klee
Fabrício Carpinejar
 Eu lembro que curava minhas verrugas com folhas de figos. Eu lembro que andava na chuva para abaixar a cabeça. Eu lembro da conversa animada das enxadas nas frinchas das calçadas. Eu lembro que não precisava morder a aliança para testar seu ouro. Eu lembro que o cansaço me salvava da repetição. Eu lembro de manter um andar de distância entre minha carne e a terra. Eu lembro de atravessar as brasas em festa junina. Eu lembro de ter chegado na escola vestido de índio na data errada. Eu lembro de desmaiar em sala de aula. Eu lembro que fui voluntário na aplicação de vacina para me aproximar de uma menina. Eu lembro que a luz subia com a roldana do poço. Eu lembro que o ponteiro do relógio era um garfo se fazendo de faca. Eu lembro de um pássaro se apoiar em sua asa como uma muleta. Eu lembro que jurava segredos, esquecia e não tinha certeza se havia contado. Eu lembro de salvar meu irmão caçula da piscina. Eu lembro de me esperançar no fim da tarde. Eu lembro de meu medo dos dentes do túnel. Eu lembro da máquina de costura preta de minha avó e os pedais descontrolados. Eu lembro a primeira vez que quebrei noz com as mãos. Eu lembro de dispersar as ervas da horta. Eu lembro de sondar as feridas do tronco. Eu lembro do avental branco no gancho e das panelas na parede. Eu lembro do que ainda não me esqueceu.
Eu lembro que curava minhas verrugas com folhas de figos. Eu lembro que andava na chuva para abaixar a cabeça. Eu lembro da conversa animada das enxadas nas frinchas das calçadas. Eu lembro que não precisava morder a aliança para testar seu ouro. Eu lembro que o cansaço me salvava da repetição. Eu lembro de manter um andar de distância entre minha carne e a terra. Eu lembro de atravessar as brasas em festa junina. Eu lembro de ter chegado na escola vestido de índio na data errada. Eu lembro de desmaiar em sala de aula. Eu lembro que fui voluntário na aplicação de vacina para me aproximar de uma menina. Eu lembro que a luz subia com a roldana do poço. Eu lembro que o ponteiro do relógio era um garfo se fazendo de faca. Eu lembro de um pássaro se apoiar em sua asa como uma muleta. Eu lembro que jurava segredos, esquecia e não tinha certeza se havia contado. Eu lembro de salvar meu irmão caçula da piscina. Eu lembro de me esperançar no fim da tarde. Eu lembro de meu medo dos dentes do túnel. Eu lembro da máquina de costura preta de minha avó e os pedais descontrolados. Eu lembro a primeira vez que quebrei noz com as mãos. Eu lembro de dispersar as ervas da horta. Eu lembro de sondar as feridas do tronco. Eu lembro do avental branco no gancho e das panelas na parede. Eu lembro do que ainda não me esqueceu.
Assinar:
Postagens (Atom)
